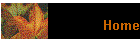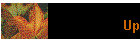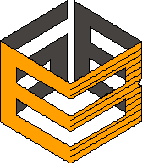II SEMINÁRIO DOS RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE TRANSMONTANO
RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES E POSTER’S
Índice
Recursos Pedológicos
Uma Panorâmica sobre os Recursos Pedológicos do Nordeste Transmontano
Tomás de Figueiredo1
O solo é um recurso natural, não renovável à escala da vida humana, e que, como tal, é indispensável conservar. Para uma utilização dos solos, sustentável na medida em que atenta a este princípio orientador, importa conhecê-lo – questão que geralmente se remete a uma perspectiva espacialmente limitada. O conhecimento dos solos de um território é também um elemento essencial para a identificação de potencialidades, limitações e riscos associados ao uso actual ou futuro da terra. Deste modo, torna-se exigível que a informação produzida pelo conhecimento dos recursos pedológicos se assuma integralmente como instrumento de apoio à decisão no ordenamento e no planeamento do território.
O trabalho que aqui se apresenta procura estabelecer um quadro descritivo dos recursos pedológicos regionais, assente na informação contida na Carta dos Solos do Nordeste de Portugal (1:100 000).
Num primeiro tempo faz-se referência às unidades pedológicas de ocorrência mais frequente na região, sumariando as principais características e dando uma imagem da sua distribuição espacial. Uma abordagem aos factores e condições de formação dos solos completa este quadro.
Numa outra vertente, mas consequente da descrição anterior, apresentam-se as unidades cartográficas de aptidão da terra, discutindo-se as principais limitações aos usos agrícola, florestal e pastagem. Comparam-se ainda a ocupação actual do território por estas categorias de uso e a aptidão da terra, salientando-se assim situações de uso adequado e inadequado. A este propósito são discutidos o conceito e os critérios aplicados correntemente em esquemas de classificação da terra quanto à aptidão para usos agrários.
Do quadro traçado conclui-se da fragilidade do património pedológico regional, quer por via das condições naturais de formação e evolução dos solos, quer pela extensão considerável de áreas de uso inadequado da terra.
1Departamento de Geociências, Escola Superior Agrária de Bragança
Fertilidade e Uso Actual da Terra no Nordeste Transmontano
Margarida Arrobas R.1
A ocupação agrícola dos solos é condicionada pela sua fertilidade. Por sua vez, a fertilidade do solo é função dos factores da sua formação, de entre os quais o material originário, o clima e as práticas agrícolas conduzidas pelo homem têm um papel preponderante.
As referências à ocupação actual de grande parte dos solos do Nordeste Transmontano apresentadas neste trabalho têm por base a análise a cerca de 3000 amostras de terra que deram entrada no Laboratório de Solos da Escola Superior Agrária de Bragança, no período 1987-1997. As informações são complementadas com dados da Carta de Uso Actual da Terra do Nordeste Transmontano. As amostras representam 7 das Regiões Naturais definidas na Carta de Solos do Nordeste Transmontano.
Num panorama de ocupação dos solos que inclui a prática da agricultura de subsistência, os agricultores da região parecem dar particular atenção às suas hortas. O número de pedidos de análises para hortícolas é o mais volumoso, representando 17% do universo das amostras consideradas. As hortícolas ocupam, em geral, os solos das zonas de baixa, próximos das povoações. São solos muito ricos em nutrientes e matéria orgânica. O castanheiro e a oliveira constituem, também, culturas com um peso importante no conjunto das amostras consideradas, cada uma com uma representação de 15%. O castanheiro ocupa os solos das zonas frias um pouco por todo o Nordeste Transmontano encontrando-se, normalmente, entre os 500 e 800 metros de altitude. A maior parte dos pedidos de análise para esta cultura tem origem nas zonas de Bragança, Vinhais e Macedo-Bornes. Os solos sob estas culturas apresentam, em geral, teores baixos em matéria orgânica e fósforo e teores médios a altos em potássio. A oliveira distribui-se um pouco por toda a região, com especial predominância nas altitudes inferiores a 550 metros. As zonas mais representadas no Laboratório de Solos da ESAB são as dos concelhos de Macedo, Mirandela, Moncorvo e Vila Flor. Os teores de matéria orgânica e fósforo são, em geral, baixos e os teores em potássio, altos. Os valores de pH estão, normalmente, associados à natureza do material originário. Solos derivados de rochas básicas e ultra-básicas (Bragança, Vinhais e algumas zonas da região de Macedo) apresentam carácter sub-ácido a neutro (pH 6,0 a 7,0). Outras culturas de importância a registar incluem a vinha (10%) e as fruteiras em geral (9%). Os cereais (7%) parece que têm vindo a perder áreas ocupadas. Os pedidos de análise para lameiros/pastagens representam 6% do total.
O homem parece ter uma influência decisiva no nível de fertilidade do solo, através das práticas culturais como a rega e a fertilização. As hortas são os locais da exploração em que os solos apresentam maior fertilidade.
1Escola Superior Agrária de Bragança, apart. 172, 5301-855 Bragança e-mail: marrobas@ipb.pt
Recursos Hídricos
Definição de Zonas de Potencial Hidrogeológico no Norte de Portugal. Metodologias e Resultados preliminares.
Gomes, A. J.1; Barbosa, C.1; Fialho, R.2; Silva, M.O.3
Nesta comunicação apresentam-se os trabalhos desenvolvidos para a definição de zonas de potencial hidrogeológico a Norte do rio Douro e a metodologia utilizada, bem como os resultados já obtidos.
Apesar de diversos estudos já realizados não foram identificados aquíferos com importância regional significativa, com excepção do aquífero da Veiga de Chaves e outros de importância local como sejam os aquíferos de Cova da Lua e de Sabariz.
Após uma primeira fase de levantamento exaustivo da informação hidrogeológica disponível, procedeu-se à sua validação e ao seu tratamento com vista ao estabelecimento de zonas com potencial hidrogeológico.
A região do Norte de Portugal, é constituída essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares do Maciço Antigo. Em termos gerais, podem-se considerar como sendo materiais com reduzida aptidão hidrogeológica.
Apesar de não apresentarem expressão cartográfica muito significativa, assinalam-se, algumas zonas com alguma importância hidrogeológica, nomeadamente os depósitos aluvionares dos principais rios, zonas com espessuras de alteração significativas de rochas ígneas e metamórficas e/ou associadas a grandes acidentes tectónicos, algumas manchas de calcários e também os quartzitos que formam alguns relevos importantes.
1Centro de Geologia FCUL; 2INAG; 3FCUL
Impactos Antrópicos nos Recursos Hídricos da bacia do Rio Fervença (Bragança)
Luís Filipe Pires Fernandes1; Manuel de Oliveira e Silva2
A bacia hidrográfica do rio Fervença, localizada a Sul da cidade de Bragança, foi objecto de um estudo hidrogeológico, no período correspondente aos anos de 1995-97.
Na caracterização geomorfológica fez-se um enquadramento ao nível da região, tendo-se analisado as diversas interpretações existentes sobre a evolução que a zona de Trás-os-Montes Oriental tem sofrido ao longo dos tempos. A observação da zona em estudo permite verificar que a sua morfologia é caracterizada basicamente pela grande bacia de Bragança, ladeada por diversas elevações, no seu interior da qual serpenteiam as duas linhas de água principais, o rio Fervença e a ribeira do Penacal.
A geologia foi igualmente analisada sob um ponto de vista regional onde o maciço polimetamórfico de Bragança se destaca, atendendo à sua grande diversidade litológica e à sua complexa e difícil interpretação. Tudo isto tem feito com que esta região tenha sido sujeita, nas duas últimas décadas, a uma grande diversidade de interpretações por parte da comunidade científica que a tem estudado. A bacia do rio Fervença engloba parte dos terrenos pertencentes a este maciço, onde se inserem os terrenos alóctones continentais e ofiolíticos. Esta bacia encontra-se em grande parte implantada nos terrenos para-autóctones e autóctones que rodeiam as unidades mais interiores.
Do ponto de vista climático, a área em estudo é influenciada por um clima do tipo mediterrânico, caracterizado por Invernos prolongados e frios e por Verões curtos e quentes, o que influencia o comportamento dos aquíferos fissurados da região.
O comportamento dos elementos químicos utilizados nas diversas actividades agrícolas na zona não saturada do solo teve um tratamento exaustivo e pouco frequente em Portugal, o que permitiu obter informação relevante sobre as variáveis que afectam a migração desses elementos e sobre as variáveis que influenciam a própria investigação nesta zona do solo. A instalação de cápsulas de sucção apetrechadas com cápsulas cerâmicas, em locais com as culturas mais representativas na zona em estudo, permitiu fazer o acompanhamento destes parâmetros, quer no que respeita à sua evolução ao longo do perfil do solo, quer no que respeita à sua evolução temporal.
A caracterização hidrogeoquímica foi feita na perspectiva de associar a composição química das águas colhidas às respectivas litologias e à influência antrópica. Neste sentido, foram colhidas 101 amostras de águas, quer de origem superficial, quer de origem subterrânea, as quais foram tratadas em conjunto, individualizadas por origens e individualizadas por altura de colheita. Este tratamento permitiu concluir que as águas desta bacia são, de uma maneira geral, bicarbonatadas calco/magnesianas. Foi também possível constatar que as águas magnesianas se encontram directamente ligadas às litologias básicas e ultrabásicas do maciço de Bragança.
A qualidade da água na bacia merece confiança do ponto de vista da sua composição química e da presença de metais pesados, mas o mesmo não se verifica na presença de microorganismos, visto que cerca de 40% das amostras colhidas ultrapassam o Valor Máximo Admissível de germes totais e 37% das mesmas ultrapassam este parâmetro no que respeita a coliformes totais, havendo algumas amostras que se apresentam próximo do VMA de coliformes fecais.
1Instituto Politécnico de Bragança
2Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Recursos Hídricos e Infra-Estruturas de Saneamento básico no Distrito de Bragança
Maria C. B. F. DIAS1; Filomena REBELO2; Sandra Sequeira3
A preservação dos recursos hídricos ao nível das águas de superfície e subterrâneas contra a poluição ocasionada pela utilização da água na agricultura, indústria e usos domésticos é o objectivo de vários programas de acção, promovidos e desenvolvidos pela Comunidade Europeia, pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e pelas autarquias locais.
A construção e gestão adequadas de infra-estruturas de saneamento básico faz parte das medidas de protecção dos recursos hídricos de uma região aliada à melhoria da qualidade de vida das populações.
No âmbito das disciplinas de Hidráulica e Recursos Hídricos do Curso de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, realizou-se um inquérito às autarquias do distrito de Bragança sobre os estrangulamentos e as potencialidades em infra-estruturas de saneamento básico.
A análise dos resultados desse inquérito permite concluir que as carências são acentuadas, não só em termos de infra-estruturas, mas também em relação aos recursos humanos associados. Quanto a potencialidades em termos de abastecimento de água verifica-se a necessidade de ampliar as disponibilidades hídricas superficiais complementando-as com a construção de novas albufeiras, podendo considerar-se no que se refere à qualidade, que a água tem características que permitem a construção de captações para consumo humano.
Palavras Chave: Recursos hídricos, abastecimento de água, saneamento, resíduos sólidos, Bragança
1Prof. Adjunta, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, Campus de Sta Apolónia, 5300, Bragança, 351.73.303140, mcbfd@ipb.pt
2Assistente do 1º triénio, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, Campus de Sta Apolónia, 5300, Bragança, 351.73.303139, frebelo@ipb.pt
3Assistente do 1º triénio, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, Campus de Sta Apolónia, 5300, Bragança, 351.73.303140, sandraics@ipb.pt
Recursos Minerais e Mineiros
Os Recursos Mineiros do Parque Natural de Montesinho. Contributos para a Valorização do seu Património Natural.
Carlos Meireles1
É conhecida a importância económica, regional e nacional, que a actividade mineira assumiu em Trás-os-Montes, até aos anos oitenta do século XX. Aqui se situavam as principais minas de Sn/W e de Au/Ag do País. Com a evolução dos mercados e as mudanças na economia mundial todas estas minas foram encerradas. Durante o seu tempo de vida, salvo raras excepções, nunca as empresas concessionárias procederam a estudos cuidados de inventariação e avaliação de reservas.
Os problemas de poluição e de impacto ambiental que a actividade extractiva provoca, foram sempre controlados em função das normas legais existentes. Com o seu encerramento, deixou de ser feito o controlo sobre as escombreiras e demais instalações mineiras, com todas as nefastas implicações ambientais. Só recentemente foram implementados projectos piloto de recuperação de escombreiras. Tardiamente começam as minas a despertar o interesse como património histórico e natural a ser preservado, quando a maior parte deste valioso património mineiro foi já vandalizado. A indústria mineira e extractiva em geral, continua a ser olhada com desconfiança pela opinião pública, de tal modo que se corre o risco de bloquear todo um sector importante da nossa economia.
A constituição dos Parques Naturais implica que sejam implementadas, antes de mais, políticas de inventariação, não só dos seus recursos renováveis mas também dos não renováveis, onde se incluem os recursos geológicos. Só conhecendo o que há, se estará em condições de tomar as correctas decisões para a sua salvaguarda, divulgação ou mesmo exploração. Além disso este conhecimento deve ser registado e protegido pois constitui parte integrante do Património Natural destas áreas protegidas. Esta abordagem pode ser estendida para os concelhos onde estas áreas se situam. Não devem contudo ser um motivo de rejeição liminar de todos e quaisquer projectos no âmbito das vertentes económica e aplicada da Geologia. É ao geólogo que cabe fornecer essa informação com o máximo de rigor científico e técnico, para que as decisões políticas sejam correctamente avalizadas.
1Instituto Geológico e Mineiro, Rua da Amieira, 4466-956 S. Mamede de Infesta
O Património Geológico como Recurso Natural: sua Inventariação, caracterização e valorização em áreas protegidas do Nordeste de Portugal
G. DIAS*1, ALVES M.I.C.1, BRILHA J.1, PEREIRA D.1, SIMÕES P.1, MENDES A.1 PEREIRA E.2, BARBOSA B.2, FERREIRA N.2, MEIRELES C.2, CASTRO P.2, PEREIRA Z.2
Nas últimas décadas tem-se verificado uma forte mobilização da comunidade geológica tendo em vista o conhecimento, valorização, preservação e divulgação do património geológico, contribuindo assim para uma gestão mais racional dos recursos naturais. O Património Geológico de Portugal não foi ainda objecto de inventariação global, pelo que urge identificar e caracterizar os objectos e formações geológicas que, pela sua singularidade, exposição e conteúdos, constituem georecursos não renováveis. Em particular, o estabelecimento de locais de interesse geológico na rede nacional de Áreas Protegidas é de grande importância no planeamento e gestão adequados destas áreas, devendo basear-se em trabalho científico rigoroso e aprofundado, desenvolvido por equipas multidisciplinares de geólogos.
Pretende-se apresentar o trabalho em curso nas áreas do Parque Natural de Montesinho (PNM) e do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI) no Nordeste de Portugal, no âmbito de um projecto que visa contribuir para o conhecimento e valorização do património geológico nesta região. Os principais objectivos deste projecto são: aprofundar o conhecimento geológico no PNM e PNDI; inventariar e caracterizar locais de interesse geológico e geomorfológico; desenvolver instrumentos científicos de suporte ao planeamento e gestão nestas áreas; contribuir para a sensibilização do público relativamente à necessidade de preservar o património. Para atingir estes objectivos utiliza-se a seguinte metodologia: cartografia geológica e geomorfológica; caracterização dos materiais geológicos (estudos petrográficos, mineralógicos, geoquímicos, isotópicos e sedimentológicos); inventariação dos recursos geológicos; inventariação e caracterização de geosítios, de acordo com o seu conteúdo, valor, utilidade e relevância; acções de formação e sensibilização dirigidas ao pessoal técnico dos dois parques naturais. Com base no tratamento e integração do conjunto dos dados obtidos, serão disponibilizados os seguintes resultados relativos aos dois parques naturais: carta geológica, carta geomorfológica e carta de recursos geológicos, à escala 1/100 000; carta de geosítios; livro guia geológico; páginas web.
Prevê-se que a definição e caracterização de locais de interesse geológico nas duas Áreas Protegidas terá impactos ambientais e sociais positivos, dado contribuir para a Educação Ambiental da população em geral e, em particular, da população escolar, sensibilizando para a necessidade de preservação do património geológico. O sistema educativo poderá igualmente beneficiar dos resultados e materiais publicados (por meios tradicionais e electrónicos).
O trabalho desenvolve-se no Centro de Ciências do Ambiente – Ciências da Terra da Universidade do Minho (Unidade de Investigação inserida no Programa de Financiamento Plurianual da FCT) e no Instituto Geológico e Mineiro, no âmbito do projecto PNAT/1999/CTE/15008, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pelo Instituto da Conservação da Natureza (ICN).
*E-mail: graciete@dct.uminho.pt
1Dep. de Ciências da Terra, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal
2Instituto Geológico e Mineiro, Dep. de Geologia, Apartado 1089, 4466-956 S. Mamede de Infesta, Portugal
As Pedras Escrevidas do Alto do Martim Preto (Guadramil); Mistério esclarecido.
Carlos Meireles1, Artur Sá2
A Serra das Barreiras Brancas a norte de Guadramil sobressai na paisagem da alta lombada como um relevo residual da meseta, constituído por cristas quartzíticas ordovícicas da formação do quartzito armoricano. A natureza destes depósitos arenosos indica que a sua sedimentação se efectuou em águas pouco profundas. A macrofauna e os icnofósseis estudados por são disso exemplo. Medeiros (1950, 1975) descreve a presença de lingula, bivalves ind., scolithus, vexillum, cruziana. Além destes fósseis, este autor refere a existência de "impressões de origem orgânica", aventando a hipótese de serem restos de algas. No âmbito da cartografia 1:50.000 do IGM, foi iniciada a revisão das colecções de macrofauna e dos icnofósseis (Meireles, 2000). As intrigantes "impressões de origem orgânica" despertaram a curiosidade. os exemplares provêm dos afloramentos de quartzitos do Alto do Martim Preto. Sugestivamente, o local é conhecido na região pelo nome de pedras escrevidas, devido à ocorrência destas impressões. na realidade, trata-se do aspecto característico de género daedalus (actual designação de género vexillum), no plano da estratificação. As lajes de quartzito estão profusamente ornamentadas e este icnofóssil encontra-se magnificamente preservado na sua estruturação interna. Em Guadramil há a assinalar a presença das icnoespécies daedalus halli (rouault) e daedalus desglandi (rouault) (Medeiros, 1950). No afloramento em questão, estamos perante daedalus halli (rouault). Com a florestação empreendida nos últimos anos, a maior parte dos afloramentos de quartzitos foram surribados e destruídos. Por mero acaso as magnificas lajes de quartzito onde ocorrem as "pedras escrevidas" não foram destruídas. Pelo seu interesse científico e didáctico está a ser preparada no âmbito do projecto "Geologia dos Parques Naturais de Montesinho e do Douro Internacional (NE Portugal): Caracterização do Património Geológico", a sua caracterização como local de interesse geológico (LIG) (Meireles, 2000). No verão passado, este afloramento foi alvo de um tratamento que visou a sua limpeza da cobertura de líquenes, no âmbito do projecto "Em Busca da Fauna do Ordovícico da Serra de Montesinho", coordenado pelo Departamento de Geologia da UTAD.
Bibliografia:
Medeiros, A. C. (1950) – Geologia do Jazigo de Ferro de Guadramil. est. not. trab. do s. f. m., Porto, vol. VI, fascs. 1-4, pp. 82-106.
Medeiros, A. C. (1975) – Carta Geológica de Portugal na Escala 1/50.000. Notícia Explicativa da Folha 4C (Deilão). serv. geol. port., Lisboa, 21 pp.
Meireles, C. (2000) – Carta Geológica de Portugal na Escala 1/50.000. Notícia Explicativa da Folha 4C Deilão), 2ª Edição, Inst. geol. mineiro, Lisboa, 28 pp.
O Projecto PNAT/1999/CTE/15008 teve início em Março de 2001, com um período de duração de três anos. É financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pelo Instituto da Conservação da Natureza (ICN). desenvolve-se no Instituto Geológico e Mineiro e no Centro de Ciências do Ambiente da Universidade do Minho (Unidade de investigação inserida no programa de Financiamento Plurianual da FCT, inscrito no Programa Operacional Ciência, Tecnologia e Inovação do Quadro Comunitário de Apoio III).
O projecto "Em busca da fauna do Ordovícico da Serra de Montesinho" integrou-se no projecto "ocupação científica de jovens nas férias", promovido pela agência nacional para a cultura científica e tecnológica do Ministério da Ciência e da TecnologiaI
1 Instituto Geológico e Mineiro, Dep. de Geologia, Apartado 1089, 4466-956 S. Mamede de Infesta, Portugal
2 Dep. Geologia Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado 202, 5001-911 Vila Real Codex, Portugal
Explorações de Serpentinitos e Talco no Nordeste de Trás-os-Montes
R. J. S. Teixeira1, A. M. R. Neiva2, M. E. P. Gomes1
No maciço de Bragança, estão a ser explorados os serpentinitos da pedreira de Donai como rocha ornamental e o talco na mina de Sete Fontes, mas há também explorações desactivadas de talco na mina de Soeira e talco e asbesto na concessão de Pena Maquieira. Esta é a única concessão do Nordeste português com autorização para a exploração de asbestos, o qual foi explorado intermitentemente entre as décadas de 40 e 60. No maciço de Morais, talco é explorado na mina de Mourisqueiro e a mina de Vale da Porca está desactivada.
Os asbestos anfibólicos estão intimamente ligados a doenças respiratórias, como a asbestose, o cancro pulmonar e o mesotelioma e o cancro intestinal.
Os serpentinitos de Donai não possuem anfíbola, mas há filonetes de asbestos tremolíticos de espessura centimétrica em zonas de cisalhamento e falhas que os cortam. Asbestos também ocorrem, localmente, como intercalaçãoes de espessura métrica associados a xisto anfibólico e raramente a clorititos. Na mina de Sete Fontes, dominam esteatitos com intercalações cloríticas e algumas serpentiníticas, mas não se encontraram asbestos. Na mina de Soeira e concessão de Pena Maquieira predomina rocha esteatítica, mas particularmente na última há afloramentos desta rocha dentro dos serpentinitos que são cortados por falhas preenchidas por asbestos tremolíticos. Na mina de Mourisqueiro, há talcoxisto; contudo, ocorre também uma grande zona mista de rocha esteatítica muito deformada com asbestos actinolíticos e xisto anfibólico.
Para explorar, com um mínimo de contaminação, os serpentinitos de Donai e as rochas esteatíticas, devem ser elaborados mapas geológicos de pormenor, observar e analisar estas rochas por microssonda electrónica, pois os asbestos podem ser de grão muito fino e estar disseminados, e determinar SiO2, CaO e MgO dos serpentinitos e CaO e MgO das rochas esteatíticas para identificar as zonas ricas em asbestos de forma a evitar explorá-las.
1Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2Departamento de Ciências da Terra, Universidade de Coimbra
Recursos Faunísticos
Fauna Piscícola Transmontana: Factores de ameaça e medidas para a sua conservação
Ana Geraldes1
A maior parte das espécies de peixes autóctones que povoam as nossas águas interiores encontram-se fortemente ameaçadas. Este facto é o resultado de múltiplos factores, salientando-se a construção de barragens e de outras obras hidráulicas, a degradação de mata ripícula, a poluição, a sobre-pesca e a introdução de espécies exóticas.
Apesar do fraco desenvolvimento económico da região transmontana, a situação é idêntica à do resto do país, existindo já muitos cursos de água muito degradados. Consequentemente, as populações de algumas espécies piscícolas autóctones sofreram uma forte regressão. A alteração desta situação só é possível através do desenvolvimento de planos de conservação, que promovam medida de recuperação, gestão e exploração sustentadas dos ecossistemas aquáticos dulçaquicolas. A eficiência desta planos depende do seu enquadramento numa base legal sólida e da tomada de consciência do público e dos decisores de que a manutenção da qualidade da água passa pela conservação da integridade biológica desses ecossistemas.
1Escola Superior Agrária (ESA). Instituto Politécnico de Bragança (IPB)
A Importância Faunística do Rio Sabor
José Teixeira1, Bárbara Fráguas2,3 e José Paulo Pires3
A diversidade e riqueza de habitats do vale do Sabor e a sua baixa perturbação humana permitem a presença de uma comunidade faunística diversificada e onde se destacam numerosas espécies protegidas através de Convenções Internacionais e do Direito Interno. Este vale apresenta importantes ecossistemas ripícolas que albergam espécies de aves com rigorosos estatutos de conservação, como a águia de Bonelli, a águia-real, o abutre do Egipto e a cegonha-preta. A orientação do vale, que corta Trás-os-Montes de Norte a Sul, e a sua baixa perturbação humana, permitem que desempenhe um papel importante como local de refúgio e corredor ecológico para a fauna terrestre da região. Entre as espécies de mamíferos que ocorrem neste vale, destacam-se o lobo, a toupeira-de-água, a lontra, o gato bravo e o corço. O Baixo Sabor representa, ainda, o principal local de desova e alevinagem da comunidade piscícola de uma vasta área (desde o Sabor até à albufeira da Valeira no rio Douro).
A importância faunística do vale do Sabor é atestada pela inclusão da quase totalidade da sua área numa Zona de Protecção Especial (ZPE) e na Rede Natura 2000.
A ausência de barragens na totalidade do seu troço e a baixa perturbação humana do seu vale levaram a que se classificasse este rio como um dos últimos rios selvagens de Portugal. No entanto, paira sobre este santuário natural o peso da possível decisão de construção de uma grande barragem no seu troço inferior, que submergiria cerca de 3660 ha e 50% da extensão nacional do rio.
1Centro de Estudos de Ciência Animal. Universidade do Porto. Campus Agrário de Vairão. R. Monte-Crasto. 4485-661 Vairão. Portugal. (jteixeira@mail.icav.up.pt)
2Departament de Biología Animal – Vertébrate. Facultat de Biología. Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 Barcelona. España.
3Faculdade de Ciências. Universidade do Porto. Porto.
O Lagostim-de-Patas-Brancas do Rio Angueira: a mim lembra-se-me que... [1]
Fernando Pereira2; Maria João Maia3
Esta comunicação, de matriz sociológica, tem por objectivo lançar um alerta contra a delapidação de recursos naturais no seio da comunidade científica, técnica e política. Pretende-se que a comunidade fique em alerta de forma a evitar que outros recursos naturais transmontanos como os cogumelos, os espargos bravios (Asparagus acutifolius), as merujas (Montia fontana), entre muitos outros tenham a mesma “morte anunciada”.
O protagonista é o lagostim-de-patas-brancas (Austrapotamobius pallipes). Em cerca de um século de história, que é o espaço temporal da sua existência conhecida no rio Angueira, o “cangrejo” (como é conhecido por estes lados), impregnou o quotidiano dos Angueirenses e vizinhos: como actividade económica em tempo de privação, como objecto de identidade local e nacional, como elemento aglutinador de laços familiares e de amizade e como objecto de descoberta e identidade sexual. O lagostim não é sujeito único, real ou simbólico, a desempenhar este papel pelas terras transmontanas, mas é rara a rapidez e intensidade com que assumiu esse papel.
A trama desta história é longa e variada, e será contada num livro que aguarda publicação. Neste encontro centramos a nossa atenção apenas nas seis hipóteses de causas de extinção identificadas, as quais alimentaram discussões inúteis, se não patéticas, que entretiveram, “pescadores”, políticos, técnicos e académicos, enquanto o cangrejo agonizava.
Metodologicamente, recorremos às entrevistas com antigos pescadores (portugueses e espanhóis), técnicos e autoridades locais, recorremos à consulta de documentos e relatórios, e ainda a visitas guiadas ao terreno.
2 Escola Superior Agrária Bragança – Dep. Economia e Sociologia Rural, Q. de Sta. Apolónia, Ap.172 - 5300 Bragança, fpereira@ipb.pt
3 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves - ISA, Tapada da Ajuda 1399 Lisboa Codex, ceabn@ip.pt
[1]Esta comunicação foi apresentada ao I Congresso de Estudos Rurais - Território, Sociedade e Política (Tema 2: Ambiente e Usos do Território), em 16 a 18 de Setembro de 2001 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro- Vila Real. A sua inclusão neste Seminário justifica-se a título de divulgação.
Trás-os-Montes e alto Douro – região de grande potencial cinegético
Manuel Belmiro Correia1
Antigamente a abundância das populações das espécies animais constituíam um problema, porque existiam mais do que as desejáveis e competiam com o homem pelo espaço e pelos recursos naturais. Actualmente colocam-se outros problemas diferentes que são os da gestão dessas populações e designadamente das cinegéticas por forma a manter um número constante e adequado de exemplares que seja suficiente para uma prática cinegética e respectivo aproveitamento económico, mas de forma que a pressão não se torne demasiada para não interferir negativamente noutras actividades no meio rural também importantes como a agricultura, a pecuária ou a floresta.
Desta forma esta procura de equilíbrio é de facto um desafio que se coloca aos actuais gestores das zonas de caça e que por vezes é difícil de conseguir.
A “caça”, como recurso natural renovável, precisa de certas particularidades que são indispensáveis para planear, ordenar e gerir de forma racional os recursos garantindo a sua rentabilidade.
O êxodo da população rural e as transformações na agricultura fizeram com que os habitats mais favoráveis à existência de caça menor fossem afectados e em sua substituição surgissem grandes e pequenas áreas de florestas e matorral denso, que criaram boas condições ao incremento das populações de espécies de caça maior como o javali, o veado e o corso.
Um dos grandes problemas com o incremento destas espécies tem sido os prejuízos que as duas primeiras causam na agricultura e floresta pelo que é necessário encontrar soluções de gestão cinegética que diminuam ou procurem evitar a frequência destes prejuízos e arranjar apoios financeiros que possam, em determinadas circunstâncias, indemnizar os agricultores e produtores florestais.
É importante o desenvolvimento de técnicas agrícolas e florestais de protecção ás culturas que possam compatibilizar-se mais com a existência destas espécies de caça maior, para tanto devem os programas agroflorestais e de pecuária contemplar medidas e apoios financeiros para este efeito.
Também é preciso recorrer a estudos e estratégias, cada vez mais científicas, para conhecer e levar à prática métodos de census e controlo da evolução das populações animais; à beneficiação dos habitats, quando for necessária; à criação de uma rede de epidemiovigilância para doenças mais graves; e ao estudo das deslocações de certas espécies migradoras.
A actividade cinegética tem de motivar não só os que exercem o acto venatório como os que prestam serviços a montante e a jusante desta actividade, não esquecendo os proprietários e os agricultores em particular. A caça pode ser uma boa fonte de rendimentos e ter um papel importante no processo do desenvolvimento desta Região dada a grande riqueza e variedade dos seus ecossistemas e habitats.
1DRATM (Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes)
A Importância das Borboletas e dos seus Habitats na Valorização do Património Biológico do Nordeste Transmontano
Ernestino Maravalhas; Patrícia Pereira1 e Engenheiro Carlos Aguiar2
É frequente associarmos o Nordeste de Portugal a fenómenos de isolamento, induzido pelo distanciamento entre a região e as grandes metrópoles do litoral, onde se concentram os principais núcleos populacionais e industriais do País. Tais associações são, em regra, depreciativas e traduzem algum atraso no processo evolutivo de uma sociedade que se pretende que seja global; apesar deste panorama, aparentemente pouco animador, devido à baixa densidade popu1acional do distrito de Bragança, à existência de barreiras naturais (o Marão e serras circundantes), e à reconhecida vontade das populações em manterem sistemas tradicionajs de gestão da sua terra, a região possui um património natural incomparável, em dimensão e diversidade, relativamente ao resto do território.
No tocante ao património biológico são por demais conhecidas as populações de lobo, de corço, de javali, de inúmeras espécies de aves, enfim, de um não acabar de interessantes animais raros e felizmente relativamente frequentes no Nordeste. Devido a alguma falta de divulgação, a flora e a vegetação da região são pouco conhecidas do grande público. É-o muito menos a fauna de insectos, mesmo a das simpáticas borboletas, que nesta região atingem o maior número verificado em Portugal: mais de 100 das 130 espécies, de borboletas diurnas conhecidas. Voltando à flora e à vegetação, são famosos os extensos carvalhais das Serras de Montesinho e de Nogueira, os imponentes soutos, dispersos um pouco por todo o distrito, os freixiais sem fim das zonas ribeirinhas, os extensos e verdejantes lameiros, etc. Mas poucas pessoas sabem que esta é uma das zonas de Portugal onde o número de espécies de plantas é mais elevado (ascendendo a mais de 1000).
Sendo as borboletas consumidores primários (como o são os coelhos), são bastante sensíveis à diversidade e qualidade do substrato vegetal e do conjunto florístico e faunístico que compõem os ecossistemas. Os autores, conhecedores da flora e fauna da região, fazem aqui um apontamento, que pretendem servir como mensageiro para um chavão que nos acompanha ao longo das nossas vidas: conhecer para amar, preservar amando. A divulgação do património natural e a sua conservação para as gerações vindouras compete, não apenas aos organismos institucionais, sejam nacionais ou locais, mas a todos nós, especialmente àqueles que ensinam hoje aqueles que, amanhã, herdarão tão valioso património.
As acções tendentes à criação de empatias por parte dos nossos filhos ou alunos em relação aos recursos naturais, poderão ser simples acções como visitas de campo, criação de pequenos herbários e, porque não, de um pequeno jardim de borboletas, que irá atraír algumas espécies do jardim ou quintal urbanos ou de um lameiro da nossa aldeia?
1 Universidade Autónoma de Madrid (UAM)
2 Instituto Politécnico de Bragança (IPB)
Recursos Florísticos
Recursos Florísticos e Valorização de Aromáticas e Medicinais.
Um Percurso Etnobotânico
Manuel Miranda Fernandes1; Joaquim Almeida Morgado2
Os recursos florísticos silvestres compreendem um número considerável de espécies cuja utilização tem interesse económico, em particular como plantas aromáticas e medicinais (PAM). Na região norte de Portugal, um primeiro levantamento realizado em Trás-os-Montes e Alto Douro revelou a existência de mais de duas centenas de espécies silvestres com utilizações potenciais, como PAM e com outros usos: ornamentais, comestíveis, cosméticos, tintureiros, biocidas, combustíveis, cestaria e produção de outras peças de artesanato, entre muitas outras possibilidades de utilização.
Um reconhecimento mais completo dos usos dados às plantas pode ser feito através de levantamentos etnobotânicos que, numa primeira fase, procuram recolher a nível local os usos de origem popular. Os “saberes populares” sobre as plantas, objecto de estudo da Etnobotânica, resultam da relação das comunidades humanas com os recursos vegetais do seu meio, e englobam percepções utilitárias, simbólicas e de “ordenação” da natureza. Assim, os resultados de estudos etnobotânicos, mais do que obter meras listagens de usos, podem evidenciar o sistema de representações antropológicas subjacente às utilizações dos recursos vegetais num determinado meio.
O diagnóstico etnobotânico pode, porém, ser aplicado a nível local, como um retorno às comunidades onde os saberes foram recolhidos, configurando formas de actividade agrária complementares ou alternativas. Quando as utilizações medicinais e aromáticas registadas se revelam potencialmente interessantes, a sua validação, sob o ponto de vista farmacológico e de análise de óleos essenciais, e a avaliação do mercado existente para os produtos derivados, poderá estimular o cultivo de determinadas espécies. Este cultivo, quando integrado nos sistemas agrários locais, pode contribuir para a valorização dos recursos vegetais endógenos e para uma dinamização dos meios rurais.
Os estudos etnobotânicos actualmente em curso na região transmontana e as iniciativas de produção já existentes apontam para o desenvolvimento desta actividade. Contudo, só a valorização adequada dos recursos florísticos, evitando a delapidação de populações silvestres e respectiva erosão genética, permitirá viabilizar esta actividade de um modo ecologicamente sustentável.
1Escola Superior Agrária de Bragança
2 Ervital ¾ Plantas Aromáticas e Medicinais, Lda.
Cogumelos Silvestres de Trás-os-Montes: Um Recurso a Proteger
Guilhermina Marques1
A riqueza da flora e variabilidade edafo-climática da região de Trás-os-Montes favorece a ocorrência de elevada diversidade de cogumelos silvestres, muitos dos quais de grande importância gastronómica. Se, até há poucos anos, a colheita de cogumelos silvestres era efectuada apenas para autoconsumo, actualmente, devido à crescente procura do mercado e maior valorização, tem-se tomado uma actividade económica de grande importância para as populações rurais.
Entre as espécies mais valorizadas destacam-se a Amanita caesarea, o Cantharellus cibarius, o Boletus edulis e espécies relacionadas (B. pinophilus, B. aestivalis e B. aereus), entre outros mais ou menos abundantes segundo a região e a vegetação associada. Estas espécies são normalmente conhecidas pelos seus nomes vulgares, míscaros, níscaros, rebiós, sanchas, etc., variáveis de região para região.
Para além do valor económico, estes fungos desempenham importantes funções ecológicas devido à sua intervenção nos processos de mineralização e reciclagem dos nutrientes, no ciclo do carbono e na associação simbiótica que alguns estabelecem com o sistema radicular das árvores, formando as micorrizas.
A intensificação da colheita comercial, com efeitos imprevisíveis no equilíbrio ecológico dos ecossistemas, torna urgente adoptar medidas de protecção destes recursos, nomeadamente a formação e sensibilização dos apanhadores de cogumelos pela divulgação dos métodos adequados de colheita, a intensificação da investigação nestes organismos ainda muito desconhecidos, e a existência de regulamentação e fiscalização desta actividade tal como se verifica com os restantes recursos naturais.
O objectivo é promover o aproveitamento sustentável dos cogumelos, tendo em conta a sua importância como um factor de desenvolvimento rural, mas salvaguardando a protecção dos habitats e o direito dos proprietários ao usufruto dos seus recursos micológicos. Estas medidas de intervenção constam de um documento elaborado por diversas entidades, coordenadas pelo Instituto da Conservação da Natureza, e espera-se que em breve sejam implementadas.
1Univesidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado 202,5000-911 Vila Real gmarques@utad.pt
Os Recursos naturais do Nordeste e os Clubes Escolares de Ambiente
Raul Gomes1
As potencialidades que os recursos naturais da região apresentam e os princípios pedagógicos que orientam a constituição dos Clubes Escolares de Ambiente (C.E.A.) configuram um quadro que, eficazmente explorado, potência a constituição de objectivos fundamentais na formação do indivíduo, ao nível da E.A. (Educação Ambiental).
O problema de o homem saber reconciliar a sua capacidade de crescimento com as facilidades e limitações que o próprio meio oferece (Miralles: 1999), parece ser uma variável poucas vezes equacionada quando se instituem projectos de E.A., quer ao nível macrocontextual, considerado ao nível da realidade nacional, quer ainda ao nível micro – directamente orientado para a acção na própria escola.
Sendo a educação ambiental um valor a considerar na preservação dos recursos naturais de uma região, “a educação ambiental nos sistemas educativos mantém-se globalmente muito lenta, desigualmente repartida, mas sobretudo com resultados pouco satisfatórios” (Giordan: 1996).
Com efeito, a dificuldade de orientar a acção desenvolvida nos clubes pelos objectivos de uma pedagógica sócio-crítica, capaz de movimentar as direcções dos estabelecimentos de ensino e os professores que coordenam os projectos nesta área, constitui um obstáculo conducente a intervenções bastante teóricas sem motivações ao nível da intervenção local.
Ao lado deste aspecto, está também o desconhecimento das potencialidades dos recursos naturais que urge dar a conhecer a quem trabalha directamente com os alunos, diminuindo, simultaneamente, o “fosso” que possa existir entre organismos e instituições com intervenção directa e exclusiva nestas áreas e os clubes em questão.
Por estes e outros factores, considera-se que uma intervenção orientada para o próprio meio, onde as preocupações de E. A. estejam presentes, irá conduzir a uma mudança dos comportamentos de gerações adultas onde a questão da preservação e utilização regulada dos recursos naturais da região se converte num imperativo estruturante da vida social e individual.
Por isso, a necessidade de rejeitar a abordagem desta questão como um assunto meramente académico, implica a interacção dos diversos parceiros sociais interessados na temática, de modo a constituir plataformas de actuação conjunta, racional e, sobretudo, pragmática onde a interdisciplinaridade, ao nível escolar, e a colaboração inter-institucional seja um dos princípios organizadores. Será, portanto, necessário repensar o que já se fez e iniciar novas abordagens e intervenções, quer ao nível do património natural quer do património construído.
1Escola Secundária Emídio Garcia
Posters
Integração de Locais de Interesse Geológico e Geomorfológico em Percursos de Valor Científico, Educacional e Paisagístico
Sousa, L.1, Oliveira, A.1, Baptista, J.1
Os locais de interesse geológico têm, nos últimos tempos, sido objecto de divulgação através de acções para o público em geral, para promoção do seu valor geológico, educacional e paisagístico, por vezes com importante significado científico. A inventariação e a divulgação destes locais, dentro de uma política de educação ambiental, facilitará a sua preservação e valorização, constituindo uma mais valia para a região onde se inserem.
Para a gestão sustentada dos locais de interesse geológico e geomorfológico é necessário proceder à sua inventariação, seguindo-se a investigação que permitirá caracterizar cada um dos locais quanto às suas principais aptidões. Podem definir-se: 1) Locais de Interesse Científico (LIC), pela seu valor para o conhecimento nos vários ramos das ciências da terra; 2) Locais de Interesse Didáctico (LID), pelo sua importância para a compreensão dos processos e materiais geológicos; 3) Locais de Interesse Geral (LIG), pelo seu significado na promoção da consciência pública e do gosto pelas ciências da terra.
Assim, esta classificação dos locais de interesse geológico e geomorfológico, alicerçará a elaboração de percursos/roteiros sistematizados e orientados para um determinado público alvo (p. ex: LID para alunos do ensino secundário ou LIG para o público em geral, como é o caso das acções de Geologia no Verão), sem excluir a possibilidade de integrar no mesmo roteiro locais com valências distintas. Deste modo, poderá evitar-se aquilo que se vem verificando com a inclusão não criteriosa de locais de interesse geológico em roteiros sem previamente se definir a sua principal valência. Acautela-se assim a sua degradação/delapidação por negligência, ou não conhecimento do seu real valor, e pelo abuso excessivo de visitas indevidamente enquadradas.
As autoridades locais e/ou regionais deverão ter conhecimento de todos os locais de interesse geológico e geomorfológico de modo a salvaguardar a sua preservação e protecção sendo, para o efeito, fundamental o envolvimento responsável das comunidades locais.
Os documentos produzidos, além do seu valor científico, didáctico e de divulgação patrimonial, servirão também de instrumento promotor do desenvolvimento regional.
1Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado 202, 5001-911 Vila Real; lsousa@utad.pt; soliveir@utad.pt; jbaptist@utad.pt
USOS TRADICIONAIS DA FLORA REGIONAL NO PARQUE NATURAL DE MONTESINHO
Ana Carvalho1
Ao longo de ano e meio realizaram-se entrevistas informais a vários residentes das aldeias de Moimenta e Rio de Onor, localizadas no Parque Natural de Montesinho, com o objectivo de identificar espécies da flora regional outrora fundamentais para o dia a dia das populações, pelas suas propriedades e características medicinais, aromáticas, veterinárias, alimentares, industriais, entre outras.
Os resultados do trabalho de campo permitiram catalogar cerca de uma centena de plantas, respectivas utilizações tradicionais, processamentos e receituários.
Neste trabalho estabelece-se uma tipologia dos utilizadores, identifica-se as principais categorias de uso e apresenta-se uma listagem de plantas, tendo em atenção a família botânica a que pertencem, o nome científico, a designação vulgar, o local de ocorrência e outras informações relativas ao processamento e formas de aplicação.
Estas espécies constituem recursos vegetais interessantes pelo que se considera importante a sua inventariação, bem como a descrição e caracterização dos usos tradicionais na região transmontana.
1Escola Superior Agrária de Bragança
VARIEDADES AGRÍCOLAS COM TENDÊNCIA PARA DESAPARECEREM NO PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
Margarida Ramos1
A agricultura praticada no Parque Natural do Douro Internacional é muito rica na diversidade de espécies cultivadas, sendo este um dos factores (aspecto) responsáveis pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas que constituem a Área Protegida. Fazendo parte desta diversidade, encontram-se alguns recursos genéticos que estão bem adaptados aos sistemas produtivos tradicionais, mas que nas ultimas décadas devido à sua substituição por variedades introduzidas, entre outros factores, se têm vindo a perder.
Com este estudo, pretendeu-se conhecer as variedades que apresentam tendências para deixarem de ser cultivadas. Através deste conhecimento, pretende-se incentivar a continuação do seu cultivo, em especial daquelas que garantam estar melhor adaptadas às condições ambientais locais, de modo a contribuir para manter o sistema agrícola policultural tradicional, assim como, aumentar a quantidade de produtos alimentares de qualidade.
Sendo que a ligação à terra das populações rurais constitui um importante factor social, este estudo pretende ainda dar um contributo substancial neste sector, através do incentivo ao cultivo de produtos de qualidade que não exigem agro-químicos e que podem de alguma forma contribuir para uma agricultura sustentada que viabilize a fixação das populações agrícolas.
O estudo decorre entre fevereiro de 2001 a janeiro de 2002, dentro da área do parque natural do douro internacional. Foram dirigidos inquéritos a quatro dos melhores e mais idosos produtores agrícolas de cada localidade, inserida na área do pndi, no sentido apurar quais as variedades que apresentam tendências para deixarem de ser cultivadas.
1Parque Natural do Douro Internacional (PNDI)
PRÁTICA PEDAGÓGICA E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS
UM ESTUDO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Delmina Pires1 (ESEB); Graça Matos Sousa2
O trabalho foi desenvolvido no âmbito do CESE em Educação Ambiental e centra-se na prática pedagógica escolar do 1º Ciclo, nomeadamente ao nível do contexto instrucional das ciências. Os conceitos de Vygotsky e de Bernstein foram os principais fundamentos teóricos. Foi implementada uma prática pedagógica que estudos anteriores ( Morais et al, 1993 , 2000; Pires, 2000) tinham revelado ser favorável ao desenvolvimento científico dos alunos, em que o ritmo de realização das actividades e a selecção e a sequência dos conteúdos, ao nível micro, era controlado pelos alunos e os critérios de avaliação e a selecção e a sequência, ao nível macro, eram controlados pela professora. Eram também características da prática pedagógica uma fraca classificação entre espaços, professora / aluno e aluno / aluno. O desenvolvimento científico dos alunos foi avaliado pelo seu aproveitamento nas competências cognitivas simples e complexas e pela sua capacidade de resolver situações que envolviam problemas ambientais. Os resultados mostram a importância da prática pedagógica nas variáveis avaliadas.
1 Escola Superior de Educação de Bragança (ESEB)
2 Escola do 1º Ciclo de Agrochão - agrupamento vertical sul – Vinhais